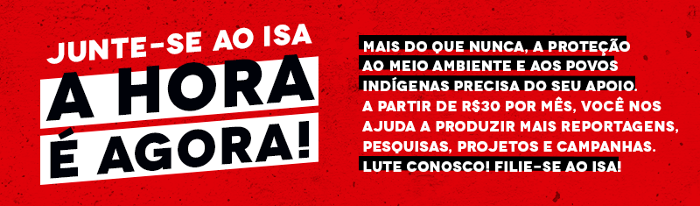Você está na versão anterior do website do ISA
Atenção
Essa é a versão antiga do site do ISA que ficou no ar até março de 2022. As informações institucionais aqui contidas podem estar desatualizadas. Acesse https://www.socioambiental.org para a versão atual.
A crise energética e o apagão da Justiça
quarta-feira, 25 de Abril de 2007 
Raul SilvaTelles do Valle
Decisões judiciais recentes acerca da instalação de hidrelétricas mostram como o Judiciário, assim como boa parte da mídia e da sociedade brasileira, vem sendo refém do discurso da crise de energia. Sob o argumento do desenvolvimento, deixam o Direito para trás e retomam o conflito teórico entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico
A recente sentença do Juiz Federal de Altamira permitindo a continuidade do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte merece ser lida com muita atenção por ser representativa de uma recente linha jurisprudencial relativa a grandes obras de infra-estrutura. Ela nos dá uma excelente amostra de como o discurso desenvolvimentista que vem tomando conta do governo, da mídia e, consequentemente, da sociedade, pode influenciar o maior guardião do Estado de Direito e, para muitos, a última linha de defesa contra o crescimento a qualquer custo: o Judiciário.
Há pelo menos dois anos vem ocorrendo um contínuo debate ou monólogo na mídia sobre a possibilidade de ocorrência de um novo apagão em 2010, cuja causa seria a falta de novas hidrelétricas, por um lado, e o esperado aumento do crescimento econômico, por outro. O culpado mais lembrado por todos incluindo o setor elétrico que inclui desde as empresas de energia a funcionários de alto escalão do Ministério de Minas e Energia é o licenciamento ambiental, ao qual acusam de ser demorado, burocrático, obscurantista, contrário ao desenvolvimento, inimigo do país. Embora por lei a maior parte dos licenciamentos sejam conduzidos pelos Estados, é o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) quem está sempre na berlinda, tanto que no final do ano passado resolveu mostrar serviço e anunciar pelos quatro cantos ter atingido um recorde na emissão de licenças no ano de 2006.
Mas o problema não está no Ibama, embora seja indiscutível que ainda faltam funcionários e recursos financeiros para seu adequado funcionamento. Para os críticos, o problema de fundo reside numa suposta hipertrofia da legislação ambiental e indigenista, que teria dado garantias demais à preservação ambiental e aos povos indígenas, obstaculizando o caminho do progresso. Até poucos anos atrás isso não era problema, pois todos acreditavam que a legislação socioambiental trazia apenas normas programáticas, ou seja, cuja observância não era necessária. Todos nos gabávamos de ter a legislação mais avançada do mundo. Bastou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) começar a levar a sério a lei e aplicar em alguns poucos casos uma regra existente desde 1981, que diz que o licenciamento ambiental não é um passo burocrático para a aprovação de um projeto, mas um processo que avaliará a possibilidade de sua instalação - o que significa que ela pode não ser autorizada - que a situação se inverteu. De uma hora para outra formadores de opinião saem pelos corredores gritando que nossa legislação precisa ser urgentemente revista, atualizada, coadunada com o imperativo maior de desenvolvimento econômico. Custe o que custar.
A contaminação da análise judicial pelo discurso desenvolvimentista
Uma das grandes conquistas do moderno sistema judicial, que configura a essência do Estado de Direito, foi o fim do sistema inquisitório, no qual o acusador e o julgador eram a mesma pessoa. Hoje a imparcialidade do juiz é um princípio fundamental, garantia de que o julgador se aterá aos fatos alegados e comprovados, os quais analisará única e exclusivamente a partir das fontes de Direito existentes. São essas garantias, formais, que impedem que decisões discricionárias se tornem abritrárias, e que razões políticas ou econômicas direcionem a prestação da tutela jurisdicional.
Assim sendo, uma decisão judicial deveria se ater à análise jurídica dos fatos alegados. O juiz, embora seja um cidadão com seus valores e opções políticas, deve saber separar suas preferências pessoais de sua função jurisdicional, exatamente para não perder a imparcialidade, para poder analisar os fatos com serenidade e não iniciar um processo já com uma posição definida.
No caso de Belo Monte, caberia ao juiz federal de Altamira analisar a validade do Decreto Legislativo por meio do qual o Congresso Nacional havia autorizado, sem saber de seus possíveis impactos e sem ouvir as comunidades indígenas afetadas, a instalação da UHE Belo Monte, e se isso deveria ter como conseqüência a paralisação do processo de licenciamento ambiental como requeria o Ministério Público Federal, autor da ação. Não estava em questão a importância da obra para o país, para a região, para a produção de alumínio ou para o lucro das multinacionais do Pará. A única pergunta feita era sobre a validade do referido decreto e qual conseqüência isso traria.
Segundo a Justiça Federal de Altamira, no entanto, analisar a consistência jurídica do ato congressual é algo de menor importância diante de uma obra de tal envergadura. Não poderia uma questão formal, ou seja, a lei, paralisar um projeto tão importante, pois a sua finalidade é o que importa:
"Registro, ainda, que a praxis dos agentes políticos de âmbito federal revela que a opção política pela construção da UHE Belo Monte já foi definida e certamente, mesmo que fosse declarada eventual nulidade do DL n° 788/2005, nada obstará que o país envide esforços para um verdadeiro ato de superação econômica e social, não podendo ser ignorado que outros decretos legislativos virão, até que o país consiga instalar as usinas tecnicamente viáveis e necessárias. Em outras palavras, a forma não constituirá obstáculo à consumação do desenvolvimento, tardio, mas inarredável (parágrafo 154)
Não que ele tenha se furtado a analisar juridicamente a questão, pois ele o fez. Mas o fez dentro de um conjunto de valores no qual a obrigação de consulta prévia do Congresso Nacional às comunidades indígenas a serem afetadas pela obra, estabelecida expressamente na Constituição Federal e na Convenção 169 da OIT(veja mais) é algo que deve ser relativizado diante do manifesto interesse nacional na obra em questão:
"Não há como fechar os olhos para a questão. A demanda energética é um fato. Por isso é que a demora na conclusão sobre a viabilidade do projeto UHE Belo Monte apenas trará prejuízos estratégicos e financeiros ao país e aos milhões de consumidores (...) (parágrafo 43).
A ação não buscava obter do Judiciário um parecer sobre a viabilidade técnica, econômica ou ambiental do empreendimento, mesmo porque essa análise não é de sua competência, mas do Ibama, da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e da sociedade como um todo. Para isso existe, desde 1981, o licenciamento ambiental, que busca fazer uma avaliação objetiva do custo-benefício sócio-econômico da obra, com base em dados concretos e análises aprofundadas. Assim como num processo judicial, no procedimento administrativo de licenciamento ambiental não deve haver qualquer presunção apriorística sobre a viabilidade ou inviabilidade do empreendimento. Tudo deve ser estudado, analisado, comprovado. As frases de efeito e a propaganda política feita pelos empreendedores, que em todos os casos prometem modificar para melhor a vida de todos com sua obra, devem, por obrigação de ofício, serem colocadas de lado durante o processo de análise.
Mas o juiz não quis esperar o licenciamento ambiental, que ele mesmo autorizou ser continuado. Para ele, a relação produção/área inundada da hidrelétrica seria excelente, razão pela qual
milita em favor da realização de estudos técnicos conclusivos a possibilidade de existir: baixa relação de área inundada por MW de capacidade instalada;ausência de emissão de poluentes; modicidade de tarifa; enorme capacidade de geração; o desenvolvimento e a manutenção do domínio da exploração da tecnologia associada a essa fonte de energia; fuga à dependência da importação de gás, uma vez que eventual exploração de usinas termelétricas a gás dependeria da importação desse insumo de outros países vizinhos, notadamente da Bolívia; e ser a fonte de energia auto-renovável (parágrafo 142- grifos nossos).
Diante de um empreendimento tão notável, quase uma obra-prima da engenharia, só loucos poderiam questioná-la. Ou mal intencionados. Por isso o Juiz Federal de Altamira anota em sua decisão:
Dada a relevância da questão em julgamento, entendo pertinentes algumas observações tendentes a desmistificar argumentos ambientalistas que poderiam mascarar a realidade e, quiçá, poderiam ir de encontro aos fundamentos jurídicos aqui delineados, sugerindo que o meio ambiente deveria ser protegido a qualquer custo, mesmo em detrimento de interesses públicos supremos, como os direitos humanos da dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento, ou mesmo contra a efetivação dos objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil (parágrafo 172)
Há em sua visão, inspirada no famigerado livro Máfia Verde (1) , uma ação coordenada pelos ambientalistas no sentido de barrar o progresso do país, e sua missão, enquanto magistrado esclarecido e ciente desse perigo, seria lutar pelos menos favorecidos e não por proteger interesses externos que possuem fundamentos obscuros e temerários, como a manutenção de um grande mercado consumidor, onde não se produzam bens competitivos, onde os estudos científicos são uma realidade distante, onde os cidadãos são aprisionados com correntes invisíveis, em uma escravidão velada (parágrafo 175, pg.40).
A politização medíocre do Judiciário
Não é a primeira vez que o Judiciário lava as mãos diante de uma questão jurídica, concreta e objetiva, em função de um suposto interesse maior da sociedade brasileira na construção de hidrelétricas. No caso da usina hidrelétrica de Barra Grande também o Judiciário se curvou à suposta necessidade de produção de energia e, ignorando a maior fraude num processo de licenciamento ambiental já descoberta, bem como a existência de mais de 2.000 hectares de florestas com o mais alto grau de proteção legal, liberou a operação da barragem. Naquele caso, diferentemente deste, não estavam em jogo meras questões formais, mas problemas bastante concretos: a obras foi autorizada com base em informações falsas, e sua conclusão destruiria para sempre um dos últimos remanescentes de um ecossistema protegido. Assim mesmo, ainda que diante de ilegalidades e imoralidades incontestes, ainda que soubesse que a única decisão juridicamente sustentável seria mandar paralisar a obra, o Judiciário optou por tomar uma decisão política. Mesmo sabendo ser inconteste que o EIA e o RIMA continham incorreções quanto à descrição da qualidade da vegetação a ser suprimida, avaliou o então presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que a construção da hidroelétrica já implicou gastos públicos de monta e que seu funcionamento se revela indispensável ao desenvolvimento da ordem econômica. Com isso, autorizou a continuidade da obra, que hoje está em pleno funcionamento.
Não há nada de mal em juízes decidirem questões jurídicas levando em consideração o contexto socioeconômico nacional, pois afinal a atividade jurisdicional deve ter como função a pacificação social e a promoção da justiça, o que seria inalcançável com juízes enclausurados em seus gabinetes e sem contato com o mundo real. Mas isso não significa que eles possam torcer ou esquecer a lei para decidir de acordo com aquilo que julgam, pessoalmente, ser mais conveniente do ponto de vista político. Decisões como essas quebram um dos pilares do Estado de Direito, que é o princípio da legalidade e do devido processo legal. O juiz pode interpretar a norma, mas não deixá-la de lado por se opor a seu conteúdo, ou por achar que não seria oportuno aplicá-la em determinada ocasião.
No caso de construção de hidrelétricas o problema é mais grave ainda. Comprando discursos prontos e elaborados para serem de fácil digestão pela população em geral, os magistrados acabam entrando numa seara que não é de seu domínio e submetendo decisões que deveriam ser técnico/jurídicas a pressupostos muitas vezes equivocados, mas que os mesmos não têm condições de avaliar.
No caso de Barra Grande, afirmou o eminente julgador que já se havia gasto muito dinheiro público para concluir a obra. Balela. O empreendimento é privado e seus acionistas são algumas das conhecidas grandes empreiteiras nacionais e alguns dos maiores consumidores de energia do país. Afirmou também que sua conclusão seria indispensável ao desenvolvimento da ordem econômica. Por que? Não explica. Parte apenas do pressuposto de que mais energia elétrica significa mais desenvolvimento, qualquer que seja o custo socioambiental de sua produção, e qualquer que seja o seu destino.
Nessa mesma linha segue a decisão do juiz de Altamira. Tece rasgados elogios ao Programa de Aceleração do Crescimento, que para o juiz consubstancia-se em um esforço nacional para que nosso país não afunde em uma crise de desenvolvimento, que, sem dúvida, deve ser evitada principalmente no que diz respeito ao parque energético nacional, fundamental para que o Brasil possua fôlego suficiente para não sagrar-se eternamente como uma nação subdesenvolvida (parágrafo 152). Por isso, ao avaliar a questão colocada pelo Ministério Público de que seria necessária a edição de lei complementar que regulamentasse a instalação de hidrelétricas em terras indígenas antes de se aprovar a instalação dessa usina em específico, concluiu:
E mesmo que fosse possível se concluir que seria necessária a existência de lei complementar para que haja a exploração de recursos hidrelétricos em área indígena (...) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos seriam motivos que justificariam a exploração de recursos energéticos em terras indígenas. Considerando-se que tais objetivos constituem verdadeiros epicentros axiológicos insertos na Norma Maior do atual ordenamento jurídico pátrio, não podemos vislumbrar que a lei complementar possa vir a ser editada em sentido contrário, sob pena de flagrante agressão ao interesse público (parágrafos 122 a 124 .
Verifica-se, pois, que já foi decidido pelo Judiciário que a exploração hidrelétrica em terras indígenas servirá para erradicar a pobreza e a marginalização, assim como reduzirá as desigualdades sociais. Não teria como, portanto, o Congresso Nacional decidir algum dia que não se pode construir hidrelétricas nessas áreas, pois isso seria contra o progresso. Mais: segundo a sentença, seria inconstitucional!
Essa também foi a linha de argumentação utilizada pela presidente de nosso Supremo Tribunal Federal STF, Ellen Gracie, uma semana antes, nos autos da Suspensão de Liminar nº 125/07, que tentava reverter a decisão do TRF que suspendia a validade da autorização de instalação de Belo Monte. Para a ministra, a não viabilização do empreendimento, presentemente, compromete o planejamento da política energética do país e, em decorrência da demanda crescente de energia elétrica, seria necessária a construção de dezesseis outras usinas na região com ampliação em quatorze vezes da área inundada, o que agravaria o impacto ambiental e os vultosos aportes financeiros a serem despendidos pela União.
Segundo essa visão de mundo, quase positivista, quanto maior a produção de eletricidade maior será o desenvolvimento do país. Aí que está o problema. Acreditando ser o progresso um conceito linear e inequívoco, seus seguidores não percebem que há outros muitos fatores que devem qualificar o termo desenvolvimento, e que nem todo crescimento gera maior qualidade de vida, como pressupõe o douto magistrado. Peguemos um exemplo, bastante pertinente ao caso: o Pará, embora seja o quinto maior produtor de hidroeletricidade do país, tem a maior parte de seu território sem acesso a ela e é apenas o 16º em desenvolvimento humano (IDH) e o 19º em desenvolvimento juvenil (IDJ). A maior hidrelétrica hoje em operação no Estado, a UHE Tucuruí, deixa aos cidadãos paraenses apenas 15% da energia que gera, pois a maior parte vai, a preços subsidiados, para as indústrias eletrointensivas do norte do país, dentre elas a Albrás, que sozinha consome o mesmo que Manaus e Belém, as duas maiores cidades da Amazônia (apud PINTO, Lúcio Flávio. Grandezas e misérias da energia e da mineração no Pará. In Sevá, O (org.), Tenotã-mõ: alertas sobre as conseqüências dos projetos hidrelétricos no rio Xingu. São Paulo, IRN, 2005). Nesse sentido, vale reproduzir a reflexão do jornalista paraense Lúcio Flavio Pinto:
Se a Eletronorte pudesse impor sua vontade, no final desta década o Pará já estaria gerando mais de um quarto da energia brasileira. Nem com números tão impressionantes, entretanto, a sina de subdesenvolvimento crescente estaria abolida na terra do deputado federal Jader Barbalho, a personalidade mais (tristemente) conhecida do Estado. A expansão do parque hidrelétrico continuará seguindo a diretriz da exportação. A usina de Belo Monte, por exemplo, vai transferir para fora do Estado, através do sul do país ou para o exterior, na forma de bens eletrointensivos, toda a energia que produzir, sejam 11 mil ou 5 mil MW. A agregação de valor com o maior beneficiamento do produto continuará a ser feita no porto de destino das matérias primas (op. Cit., pg.109)
Portanto, parece até ingênua a afirmação do juiz de que Belo Monte poderia reduzir a dependência da energia termelétrica na Região Norte do país. Segundo o próprio estudo de viabilidade econômica da obra, toda a energia que seria escoada pela hipotética usina iria para o Centro-Sul do país, sem nenhum objetivo de conectar ao Sistema Interligado Nacional o oeste do Pará, o Amazonas e todos os demais estados hoje isolados e dependentes de termelétricas a diesel.
Por que, então, somos todos levados a acreditar que é a falta de energia que emperra o país? Porque vivemos hoje sob uma ditadura da demanda, reiteradamente explicitada na mídia nacional. Sua característica principal é impor a todos a idéia de que é fundamental aumentar continuamente a produção de energia, pois há uma demanda crescente não satisfeita. Presente em todas as análises do setor elétrico, inclusive no Plano Decenal de Expansão do Setor Elétrico, esse raciocínio não sabe fazer uma pergunta básica: precisamos de energia para que? Ou melhor: para quem?
De acordo com estimativas do prof. Célio Bermann, da Universidade de São Paulo, na publicação Exportando nossa natureza: produtos intensivos em energia, implicações sociais e ambientais (Rio de Janeiro, FASE, 2004), um pequeno ramo do setor industrial, formado por indústrias eletrointensivas (alumínio, ferro-gusa, cimento, celulose, entre outros) é responsável por 27% do consumo final de energia elétrica no Brasil, algo em torno de 85 mil MWh. Isso significa que elas utilizam quase a mesma quantidade de energia que é destinada à iluminação de casas em todo país. Geram, porém, relativamente poucos empregos diretos e indiretos, pois exportam grande parte da produção e trabalham com alto índice de produtividade na mão de obra (vale dizer, poucos empregados para cada unidade de produção). Será isso desenvolvimento? Será que estamos gastando bem nossa energia?
O que nos espera
As questões levantadas não podem ser aqui respondidas, pois dependem de uma análise mais profunda da realidade socioeconômica brasileira, bastante multifacetada. Mas nos parece que tampouco os juízes deveriam se arriscar a respondê-las, sob pena de caírem em armadilhas conceituais que ignoram. Que o Judiciário tenha uma visão abrangente das questões que afligem a sociedade para poder tomar suas decisões é algo salutar. O problema surge quando ele decide submeter o Direito ao senso-comum e a discursos de fácil digestão, mas carregados de interesses parciais, como é o caso do discurso terrorista do apagão. Com essa atitude, compromete-se a análise imparcial e serena que deveria fazer o magistrado sobre as questões jurídicas que lhes são colocadas.
Se o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal vier realmente com todo o gás, e o discurso nacionalista a ele atrelado se proliferar, as cenas do próximo capítulo serão decisivas para avaliar o quanto o Judiciário estará preparado para realizar o controle da legalidade das grandes obras e projetos previstas no plano. Se os atuais sinais forem pra valer, corremos o risco de viver um perigoso apagão judicial. (1) segundo o juiz, "a campanha ambientalista possui contradições em seus alicerces", que ele desvenda "com inspiração na obra Máfia Verde - O ambientalismo a serviço do Governo Mundial, RIR, Rio de Janeiro, 2001" (parágrafo 175)
Raul Silva Telles do Valle é advogado e integrante do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental