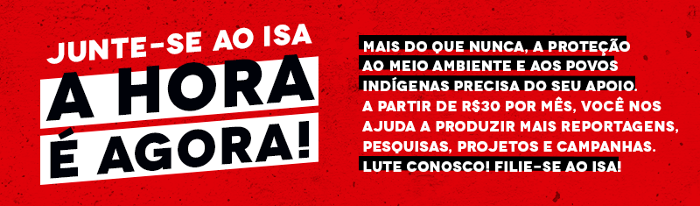Você está na versão anterior do website do ISA
Atenção
Essa é a versão antiga do site do ISA que ficou no ar até março de 2022. As informações institucionais aqui contidas podem estar desatualizadas. Acesse https://www.socioambiental.org para a versão atual.
A pandemia nossa de cada dia: sementes da morte
terça-feira, 09 de Junho de 2020 
Nurit Bensusan, assessora do ISA e especialista em biodiversidade
Só eu sei o quanto a Rainha Branca tinha razão e como temos pouca prática em pensar em coisas impossíveis. Evidentemente, abandonei a ideia de pensar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã, pois morreria de fome, mas sigo em busca, noite e dia, de ideias que parecem impossíveis, mas que, se colocadas em práticas, poderiam tornar o futuro pós-pandêmico melhor.
Talvez seja tão difícil pensar em coisas impossíveis não só porque estamos mergulhados, ou quem sabe afogados, em um jeito único, pretensamente certo, de viver, mas também porque estamos desacostumados a pensar sem corrimão, na expressão cunhada por Hannah Arendt e aqui usada elasticamente. Estamos mais habituados com o pensamento pensado, aquele que apenas repetimos ou repensamos. O convite ao pensamento pensante, um trabalho crítico que dialoga com a responsabilidade integral e indelegável de que ninguém pode pensar no nosso lugar, de que ninguém pode responder no nosso lugar, não significa um apelo para a maioria de nós.
Frédéric Gros, no livro Desobedecer, diz: “é a essência das revoluções quando cada um se recusa a deixar a outro sua própria capacidade de supressão para restaurar uma justiça, quando cada um se descobre insubstituível para se pôr a serviço da humanidade inteira, quando cada um faz a experiência da impossibilidade de delegar a outros o cuidado do mundo.” Assim, o pensamento revolucionário, que pode nos levar a um outro futuro, está umbilicalmente ligado ao pensamento pensante e ao engajamento no cuidado do mundo.
Esse cuidado do mundo pode se traduzir em muitas coisas, mas uma delas parece ser parte importante de um futuro pós-pandêmico melhor: o cuidado da natureza, pois quando desistimos da natureza, desistimos de nós mesmos. A pandemia nossa de cada dia deixa claro que se abandonarmos esse cuidado viveremos em um mundo imprevisível, com surtos de doenças mortais mais frequentes e de difícil previsão e controle. A crise climática acentua essa certeza com a mudança na distribuição das espécies ocasionando encontros inesperados entre animais e os patógenos que os infectam, aumentando a probabilidade do surgimento de novos vírus que encontrem em nós bons hospedeiros, e com a ampliação da área de atuação de vetores de doenças já conhecidas, como dengue, zyka, malária, leishmaniose, filariose, doença de Chagas, entre outras.
Atividades que não deveriam ser retomadas
Para promover esse cuidado, na disputa palmo a palmo pelo futuro pós-pandêmico, ajuda tomar como ponto de partida uma das perguntas com as quais Bruno Latour encerrou seu texto do início da pandemia: "quais as atividades agora suspensas que você gostaria de que não fossem retomadas?”
Evidentemente as respostas podem ser muito variadas, mas o convite aqui é pensá-las na perspectiva do cuidado do mundo e do pensamento pensante. Para muitos de nós, há um conjunto de respostas negativas imediatas. Será que queremos, de fato, que a produção de proteína animal nas “fazendas" onde os animais são confinados em condições atrozes e com muito sofrimento persista? Será que queremos que a produção de inúmeros bens, como chocolate, molho de tomate, avelãs ou baunilha, que dependem de condições de trabalho degradantes ou análogas à escravidão seja retomada? A pergunta de Latour pode ser ampliada para as atividades que não foram interrompidas, mas que muitos de nós gostaríamos de ver encerradas, como o garimpo em terras indígenas ou em áreas protegidas, o desmatamento, a grilagem de terras, entre muitas outras.
Existe, porém, uma outra pergunta subjacente a essa que pode nos conduzir mais longe na reflexão sobre como transformar o futuro: o que todas essas atividades têm em comum? Boa parte delas tem conexão direta ou indireta com a produção de proteína animal, desde as “fazendas” de animais confinados, a pecuária em si, até o cultivo de plantas que servem para alimentação animal, como a soja. Ou seja, essas atividades se relacionam de alguma forma com o exagerado consumo de carne.
Agronegócio e doenças
Como Rob Wallace, autor do livro Pandemia e Agronegócio, ressaltou numa entrevista recente, o planeta Terra hoje é em grande parte um planeta Fazenda, tanto na biomassa quanto na extensão das terras usadas para o agronegócio. Esse agronegócio pretende monopolizar o mercado de alimentos e varrer do mapa a diversidade de possibilidades de produzir. A questão é que esse agronegócio concretiza-se substituindo a diversidade de ambientes, ecologias e paisagens por extensas monoculturas. No caso dos animais, essas monoculturas propiciam boas condições para que os agentes patogênicos se tornem mais virulentos e ampliem suas possibilidades de infectar. Sem a diversidade genética, essencial para retardar a transmissão de uma doença, e em condições de vida precárias que prejudicam a imunidade, os riscos aumentam exponencialmente.
Além disso, Kate Jones, da University College London, afirmou numa recente reportagem que há fortes evidências apontando que os ecossistemas que foram transformados por nós e passaram a ter menos biodiversidade, como as paisagens agrícolas ou as plantações, estão mais associados ao aumento do risco de diversas infecções.
O tradução de tudo isso é que as duas situações combinam-se tragicamente. O exemplo do primeiro surto do vírus Nipah, em 1999, na Malásia, é bastante emblemático. A infecção é transmitida por morcegos e, nesse caso, espalhou-se por uma grande fazenda de criação de porcos, localizada perto de uma floresta. Os morcegos se alimentavam das árvores frutíferas e os porcos mastigavam as frutas parcialmente comidas pelos morcegos. O resultado foi que as mais de 250 pessoas que trabalhavam com os porcos pegaram o vírus e cerca de 100 delas morreram. Ambientes naturais alterados e animais confinados formam a tempestade perfeita…
O risco de contaminação dos animais confinados é tão grande que Soledad Barruti conta, em texto recente, que visitou uma produtora de ovos em Entre Rios, na Argentina, em 2011, quando estava escrevendo seu livro “Malcomidos” e a preocuparão maior da fazendeira era que, apesar "do galinheiro ser uma mina de ouro, tinha uma fraqueza, poderia desencadear uma praga a qualquer momento”. Para tentar diminuir riscos, a produtora eliminou qualquer contato entre a natureza e seu galinheiro: afugentou as aves selvagens que viviam nas proximidades e prendeu seus faisões e pavões, longe do galinheiro. Razões para a preocupação não faltavam, galinheiros da vizinhança foram atingidos pela gripe e todas as galinhas foram abatidas. Vale lembrar que nos últimos anos, só na Ásia, cerca de 200 milhões de aves foram sacrificadas para impedir a propagação de vírus que poderiam nos infectar.
Como se tudo isso fosse pouco, Barruti lembra que 80% dos antibióticos produzidos no mundo acabam em fazendas de produção de proteína animal, como parte de uma proteção química que a indústria criou para fazer com que esses animais confinados em condições absurdas sobrevivam. Nesse pacote, há de antivirais a clonazepam (substância comercializada, entre humanos, com o nome de Rivrotril), além dos antibióticos. Essa situação pode gerar outra grande ameaça a nossa saúde, a perda de eficácia dos antibióticos, que já vem causando milhares de mortes por ano.
Consumo de carne entre ricos
Não há justificativas ligadas à saúde para os níveis de consumo de carne que encontramos entre as populações mais ricas do planeta. Por exemplo, dados do Global Burden of Disease, grupo que estudou os riscos das dietas em 195 países entre 1990 e 2017, mostram que 18% da humanidade consome mais carne vermelha do que deveria e mais de 90% consome mais carne multiprocessada do que seria bom para manter sua saúde. Ou seja, a indústria de proteína animal não existe para alimentar adequadamente a humanidade: uns comem excessivamente e o sistema é tão predatório que outros nada comem. Não seria o caso, tampouco, de apostar nesse tipo de produção com uma melhor distribuição, ainda que haja cerca de 900 milhões de pessoas enfrentando a fome ou a subnutrição hoje, pois o modelo carrega dentro de si a destruição tanto da natureza como da própria humanidade.
Cabe lembrar, ainda, que um relatório especial do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), de agosto de 2019, encoraja as pessoas dos países ricos a comer menos carne e incentiva uma dieta mais baseada em plantas. Tais atitudes, segundo o relatório, ajudariam na mitigação e da adaptação às mudanças climáticas.
Se esse modelo não existe para garantir a segurança alimentar, nem a saúde da humanidade, por que ele está aí? O que alimenta essa forma de produzir? O agronegócio é rentável pois o risco de pandemias globais, a destruição ambiental, os colapsos dos sistemas de saúde e a perda de vidas animais e humanas não são contabilizados. Por que sustentamos esse modelo produtivo? O que está por trás do consumo de proteína animal?
O consumo de carne está ligado ao status social. É um alimento simbólico, um animal abatido, na infância da humanidade, conferia prestígio ao caçador. Animais eram, e ainda são, sacrificados em rituais. A história é longa, mas é difícil imaginar como consumir carne produzida nas condições da indústria de proteína animal atual preserve algum status, algum valor simbólico ou ritualístico. Assim, para existir um futuro pós pandêmico que dure, teremos que abandonar essa forma de produção. Teremos que voltar a nos inspirar na diversidade da natureza, apostar nos sistemas tradicionais agrícolas, na agroecologia, exigir outro tipo de produção e recusar os produtos marcados com a semente da morte.
Imagens: