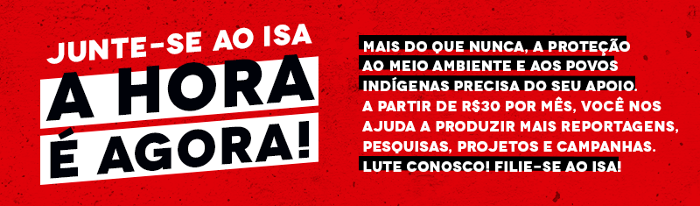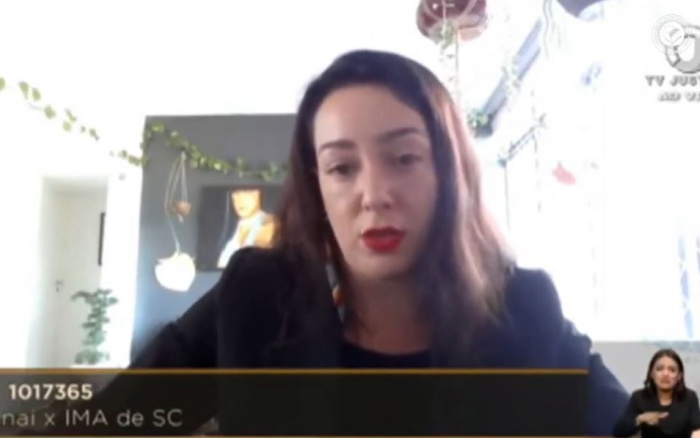Você está na versão anterior do website do ISA
Atenção
Essa é a versão antiga do site do ISA que ficou no ar até março de 2022. As informações institucionais aqui contidas podem estar desatualizadas. Acesse https://www.socioambiental.org para a versão atual.
Augusto Aras defende direito indígena 'originário' e posse de terra para povo Xokleng no STF
sexta-feira, 03 de Setembro de 2021 
Esta notícia está associada ao Programa:
Julgamento que pode decidir o futuro das demarcações das Terras Indígenas no país será retomado na próxima quarta (8)
Reportagem e edição: Oswaldo Braga de Souza
 O julgamento que pode definir o futuro das demarcações das Terras Indígenas (TIs) no Supremo Tribunal Federal (STF) foi suspenso mais uma vez, no fim da tarde de ontem (2), e será retomado na próxima quarta (8).
O julgamento que pode definir o futuro das demarcações das Terras Indígenas (TIs) no Supremo Tribunal Federal (STF) foi suspenso mais uma vez, no fim da tarde de ontem (2), e será retomado na próxima quarta (8).
A sessão foi interrompida, após a última fala do dia, do procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele defendeu o caráter “originário” do direito territorial indígena e a posse do povo Xokleng sobre a TI Ibirama-LaKlãnõ (SC), alvo da ação original (saiba mais abaixo).
Entre quarta e quinta, falaram a Advocacia-Geral da União (AGU), advogados dos Xokleng e o governo de Santa Catarina, além de mais 36 amici curiae (“amigos da causa”), pessoas ou organizações que auxiliam as partes e oferecem subsídios ao processo. O julgamento começou, na quinta da semana passada, com a leitura do relatório (do histórico do processo) do ministro Edson Fachin, mas teve de ser interrompido, em função do horário. Na semana que vem, será reiniciado com a apresentação do voto de Fachin, com sua posição sobre as questões de mérito. O texto foi divulgado em junho. Os outros ministros pronunciam-se em seguida.
Veja transmissão da parte 1 das sustentações orais (1/9/2021)
Veja transmissão da parte 2 das sustentações orais (1/9/2021)
Veja transmissão da parte 2 das sustentações orais (1/9/2021)
A análise do caso avança para sua terceira semana em meio ao aumento da tensão política. Na próxima terça, feriado de 7 de setembro, estão previstas manifestações bolsonaristas. Como de costume, são esperados discursos golpistas e contra o STF. O julgamento será retomado no dia seguinte.
Recentemente, Jair Bolsonaro vem usando a questão indígena em sua tática habitual de radicalização e conflagração na relação entre os poderes. Ele chegou a sugerir que não acataria uma decisão da corte contrária aos interesses ruralistas.
Desde o início do mandato, Bolsonaro cumpre à risca a promessa de paralisar completamente os procedimentos demarcatórios: nenhuma TI foi reconhecida em sua administração ‒ o pior desempenho entre presidentes desde o fim da ditadura.
Nas últimas semanas, representantes da bancada parlamentar da agropecuária intensificaram as pressões sobre o STF. Ecoando a postura bolsonarista, tentam convencer os ministros de que uma decisão desfavorável aos produtores rurais elevaria a temperatura da crise politica e a adesão aos protestos. Um dos objetivos é adiar o julgamento e abrir caminho à votação do Projeto de Lei (PL) 490 no plenário da Câmara. A proposta institucionaliza o chamado “marco temporal” e, se for aprovada, na prática vai inviabilizar as demarcações de vez e permitir até a anulação de TIs. A chancela do Congresso ao projeto jogaria mais pressão sobre o Supremo para validar as teses de alguns setores do agronegócio.
Interpretações em disputa
O STF analisa a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina na Justiça Federal, em 2009, sobre um trecho da TI Ibirama-Laklãnõ, habitado pelo povo Xokleng. Em 2016, o caso chegou à Corte e, em 2019, recebeu status de “repercussão geral”, o que significa que a decisão sobre ele servirá de diretriz para a gestão federal e o Judiciário no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios.
Há duas interpretações em disputa. O “marco temporal” restringe os direitos indígenas ao estipular que só podem ser demarcadas terras sob a posse dos povos originários no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Alternativamente, essas populações precisariam estar disputando o território na Justiça ou em campo.
Já a teoria do “indigenato” preconiza que o direito territorial indígena é “originário”, ou seja, anterior à formação do próprio Estado brasileiro, independe de uma data específica de comprovação da posse da terra e mesmo da demarcação. O procedimento demarcatório seria apenas um ato administrativo declaratório, destinado a dar segurança jurídica aos direitos pré-existentes das comunidades indígenas. Essa é a tese do movimento social, de ambientalistas e defensores dos direitos humanos.

De acordo com eles, o “marco temporal” é injusto porque desconsidera as expulsões, remoções forçadas e outras violências sofridas pelos indígenas até a promulgação da Constituição. Além disso, ignora o fato de que, até 1988, eles eram tutelados pelo Estado e não podiam entrar na Justiça de forma independente para lutar por seus direitos. Igualmente, as comunidades não estavam preocupadas em produzir provas sobre a ocupação ou a disputa por uma área (saiba mais).
"É preciso perguntar: se determinadas comunidades não estavam em suas terras na data de 5 de outubro [de 1988], onde elas estavam? Quem as despejou dali?”, questionou Luís Eloy Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), em sua fala no julgamento, anteontem. “Basta lembrar que estávamos saindo do período da ditadura, onde muitas comunidades foram despejadas de suas terras, ora com apoio, ora com aval do próprio Estado e seus agentes”, ressaltou.
Direito à organização social
O jurista Carlos Frederico Marés lembrou que, na Constituinte, em outros termos, o “marco temporal” já tinha sido discutido e derrotado. Ele explicou que havia, então, também duas posições em disputa: de acordo com a primeira, os indígenas deveriam ser assimilados à sociedade brasileira, enquanto uma segunda estipulava que eles teriam direito às suas organizações e culturas particulares de forma permanente. A segunda opção foi vitoriosa e incluída no texto constitucional, destacou Marés, que falou na condição de advogado dos Xokleng.
“O marco temporal é a negação do que diz a Constituição. Os índios têm direito à sua organização social, mas, se eles não têm onde estar, não existe organização social. Negar-lhes o território é negar-lhes a organização social”, defendeu. “Naquele momento, em 1988, a opção da sociedade brasileira foi pela existência dos povos indígenas como sociedades [e não apenas como indivíduos]”, rememorou.
“Não há como falar de terras, construir uma tese sobre Terras Indígenas, sem considerar as vidas dos povos indígenas. E não há como falar de vida sem a proteção dos nossos territórios”, salientou Samara Pataxó, advogada da Apib que também falou no julgamento. “É notório que o marco temporal figura como um dos principais trunfos para sobrepor interesses individuais, políticos e econômicos sobre os direitos fundamentais, coletivos e constitucionais dos povos indígenas e da própria União”, comentou.
Em contrapartida, o advogado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Rudy Ferraz chegou a sugerir que a rejeição do “marco temporal” poderia significar a “extinção” do direito de propriedade. “Não estamos aqui para buscar a extinção dos direitos indígenas ou retrocesso dos direitos dos índios. Estamos discutindo aqui como implementá-los: se é através da extinção ou violação do direito de propriedade ou se é com a compatibilização dos direitos dos índios com o dos produtores”, exagerou.
Jurisprudência
O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, não se acanhou e repetiu o discurso ruralista e bolsonarista de que o STF deveria deixar a decisão sobre o assunto para o Congresso. “A necessidade de preservação da segurança jurídica fica acentuada quando se considera que há debate parlamentar em curso na Câmara dos Deputados, no Projeto de Lei 490/2007”, disse. “É de todo prudente se aguardar tal trâmite parlamentar”, arriscou.
Leal também defendeu que as demarcações só teriam efeito jurídico definitivo após sua conclusão. A justificativa não tem base legal, mas tem sido usada pela administração federal para deslegitimar territórios indígenas cujo reconhecimento não foi finalizado e negar assistência aos seus moradores, inclusive no combate à pandemia.
O próprio Augusto Aras contestou essa opinião. Ele defendeu o caráter “originário” do direito territorial indígena e reforçou que ele independe do processo de demarcação, e muito menos da etapa em que se encontra. “O dever jurídico estatal de proteção das terras indígenas não se inicia após a demarcação da área indígena. Antes mesmo de concluída a demarcação e durante todo o processo demarcatório, o Estado haverá de assegurar aos índios proteção integral em relação às terras que ocupam, com a observância dos direitos constitucionalmente assegurados”, argumentou.

Em sua fala, o procurador-geral pediu que os ministros acatem o recurso do povo Xokleng para garantir a posse de seu território. O procurador-geral defendeu ainda que o STF não estabeleça uma regra geral sobre as demarcações e que a comprovação da ocupação tradicional indígena seja decidida caso a caso. “Por razões de segurança jurídica, a identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios há de ser feita no caso concreto”, concluiu.
Coube ainda a Bruno Leal ser o primeiro no julgamento a repisar a tese ruralista de que a lista de restrições aos direitos indígenas estabelecida, em 2009, no caso da TI Raposa Serra do Sol, incluindo o “marco temporal”, pode ser considerada jurisprudência aplicável a todas as TIs. Ele pediu aos ministros que confirmassem esse entendimento. “O revolvimento dessas salvaguardas institucionais firmadas no caso Raposa Serra do Sol tem potencial de gerar total insegurança jurídica e ainda maior instabilidade nos processos demarcatórios”, afirmou.
Organizações indígenas e indigenistas e juristas insistem que essa posição não tem fundamentação e que sua manutenção irá inviabilizar de vez as demarcações.
A advogada do ISA Juliana de Paula Batista foi uma das participantes da sessão de ontem que defendeu essa linha de pensamento. Ela informa que, pelo menos, cinco ministros do STF já se manifestaram contra a ideia de que o caso Raposa Serra do Sol poderia ser aplicado automaticamente a outras situações.
 “Há onze anos, há clareza solar sobre a inexistência de jurisprudência consolidada sobre as questões em discussão”, ressaltou. Ela lembrou que, em 2010, a CNA propôs ao STF a edição de uma súmula vinculante para definir o “marco temporal” como jurisprudência, mas o pedido foi negado pela comissão da corte especializada nesse tipo de decisão.
“Há onze anos, há clareza solar sobre a inexistência de jurisprudência consolidada sobre as questões em discussão”, ressaltou. Ela lembrou que, em 2010, a CNA propôs ao STF a edição de uma súmula vinculante para definir o “marco temporal” como jurisprudência, mas o pedido foi negado pela comissão da corte especializada nesse tipo de decisão.
As posições do Advogado-geral da União contrariam as da Fundação Nacional do Índio (Funai) no processo. Com a missão legal de defender os direitos indígenas, foi o órgão que levou o caso ao STF para tentar garantir a posse da TI Ibirama-Laklãnõ aos Xokleng. Agora, sob o governo Bolsonaro, no entanto, a cúpula da Funai simplesmente preferiu não participar das sustentações orais realizadas nesta semana.
Desinformação
Alguns advogados de organizações de grandes produtores rurais usaram de desinformação para defender as posições do setor no julgamento, também ecoando o discurso de Bolsonaro. Nos últimos dias, sem apresentar evidências, o presidente disse que, se o “marco temporal” fosse rejeitado, a extensão das TIs no país poderia dobrar ou uma extensão do tamanho da Região Sul seria transformada em território indígena. “Vai afetar em cheio o agronegócio", disparou.
Ontem, no julgamento, o representante da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Paulo Dorón Rehder de Araújo, afirmou que a recusa da tese ruralista levaria à “demarcação de cerca de 30% do território nacional como Terras Indígenas". A fonte seria o Instituto Pensar Agro, braço da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Já Luiz Fernando Vieira Martins, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), mencionou um suposto estudo do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), segundo o qual a continuidade das demarcações no Mato Grosso teriam um impacto de R$ 1,9 bilhão no PIB agropecuário estadual. Na semana retrasada, esse e outros números do Imea foram publicados num anúncio de duas páginas no jornal O Estado de São Paulo. No último dia 27, o site de checagem Fakebook.eco, vinculado ao Observatório do Clima (OC), pediu ao Imea acesso ao levantamento. A organização respondeu que não poderia encaminhar o documento por ele ter "caráter confidencial" e por “questões contratuais”.
Números
As falas de Bolsonaro e dos ruralistas no julgamento repisam a ideia errônea de que “há muita terra para pouco índio”. Os números dizem o contrário.
Hoje, 13% do território nacional é ocupado por TIs, considerando os procedimentos demarcatórios já abertos e dados do Diário Oficial da União (DOU). Parece muito, mas a média mundial é maior: 15%, segundo estudo publicado na revista Nature Sustainability, em 2018.
As áreas privadas somam 41% do Brasil, três vezes mais que as TIs. Além disso, cerca de 1/5 do país está em posse de 51,2 mil grandes fazendeiros ou 1% do total de proprietários rurais, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 2017. Na verdade, o número de superlatifundiários é menor, porque muitas áreas estão em nome de parentes ou prepostos.
“Cerca de 21% do território brasileiro é ocupado por pastagens e querem nos fazer crer que 13% não podem ser ocupados por mais de 500 mil pessoas, de mais de 300 povos indígenas. Boi vale mais do que gente?", questionou Juliana de Paula Batista no julgamento.
Mais de 98% da extensão das TIs fica na Amazônia Legal, muitas vezes em locais remotos e sem aptidão para a agropecuária extensiva. E apenas 0,6% do resto do Brasil é ocupado por indígenas. É nessa região que está a principal demanda por demarcações.

Onde há mais conflitos por TIs, o percentual do território ocupado por elas também é ínfimo, ainda considerando processos já abertos. No Rio Grande do Sul, é de 0,4%, enquanto as propriedades rurais ocupam 77%, e assim por diante: na Bahia, 0,5% e 49%, respectivamente; em Santa Catarina, 0,8% e 67%; em Mato Grosso do Sul, 2% e 86%. A situação não é diferente em Goiás (0,1% e 77%), Minas Gerais (0,2% e 65%) e São Paulo (0,3% e 66%).
Portanto entre os nove principais estados do agronegócio, em sete as TIs não passam de 1% do território. No Mato Grosso do Sul, o índice é um pouco maior, mas ainda baixíssimo.
Em Mato Grosso, maior produtor agropecuário nacional, o percentual de território indígena atinge 16%, mas a demanda por demarcações é igualmente pequena. Por outro lado, como no resto do Brasil, os agricultores vêm ampliando a produtividade, ano após ano, independente dos conflitos fundiários.
ISA
Imagens: