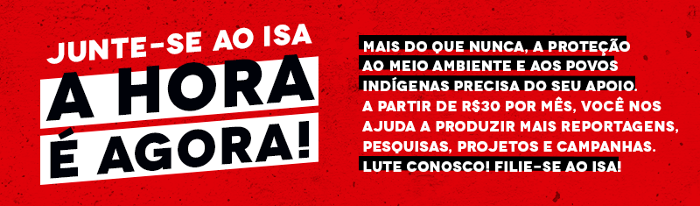Você está na versão anterior do website do ISA
Atenção
Essa é a versão antiga do site do ISA que ficou no ar até março de 2022. As informações institucionais aqui contidas podem estar desatualizadas. Acesse https://www.socioambiental.org para a versão atual.
Caiçaras buscam na Justiça direito à reconstrução de casa na Jureia (SP)
segunda-feira, 29 de Março de 2021 
Esta notícia está associada ao Programa:
Moradias foram demolidas em julho de 2019 pela Fundação Florestal de São Paulo, gestora de unidade de conservação criada sobre território tradicional de comunidades caiçaras
Duas famílias caiçaras do território Rio Verde e Grajaúna, em Iguape (SP), no litoral sul de São Paulo, acionaram a Justiça para garantir o direito de reconstruírem suas casas. As moradias foram demolidas em julho de 2019 por agentes da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal de São Paulo, órgão gestor da Estação Ecológica (Esec) Jureia Itatins. A unidade de conservação (UC) de proteção integral foi criada em 1986, sobre área que abrange o território caiçara, o que há décadas limita o modo tradicional de existência.
As famílias, com apoio do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do estado, protocolaram duas ações judiciais no dia 11 de março, cada uma referente a uma casa. As ações pedem que o estado de São Paulo autorize a reconstrução das residências.
Os caiçaras criticam a forma como a ação da Fundação Florestal, com amparo da Polícia Ambiental, foi executada, sem ordem judicial e direito de defesa das famílias, derrubaram as casas em 2019. Uma terceira casa estava na mira dos agentes, mas o fato de uma das moradoras estar grávida no momento da ação contribuiu para que fosse poupada, segundo as testemunhas ouvidas pelo ISA. Posteriormente, o Poder Judiciário impediu a demolição da casa pela Fundação Florestal.
“O pós demolição foi terrível. A gente perdeu um monte de coisa. Foi uma situação difícil, três famílias numa mesma casa e num espaço pequeno. E a pandemia agravou isso em 100%. Meu avô e minha avó são do grupo de risco”, relatou Marcos Venícius de Souza Prado. Ele e a esposa Daiane Neves Alves são uma das famílias que tiveram a casa demolida. A outra é formada por Heber do Prado Carneiro, Vanessa Muniz Honorato e o filho deles, Joaquim, que nasceu em 21 de março de 2021.
Após a demolição, as três famílias, que têm parentesco, montaram o acampamento Tapera Viva na casa que ficou de pé, chamando atenção para a situação. Foram organizadas rodas de conversa com parentes, organizações parceiras e lideranças políticas para evitar que a terceira moradia também fosse destruída. O Juiz da Primeira Vara da Comarca de Iguape concedeu liminar reconhecendo os direitos territoriais da comunidade e impedindo a demolição da terceira casa. As duas famílias se mudaram então para a casa de seus avós, dentro do território tradicional. Logo depois, veio a pandemia de Covid-19.
“A minha avaliação é que [a derrubada das casas] foi ilegal. O ato foi arbitrário. Haveria necessidade ao menos de ingresso com ação judicial”, pontuou Andrew Toshio Hayama, defensor público do estado de São Paulo. A derrubada foi feita com base em um instrumento conhecido como autotutela possessória, estabelecido pelo parecer 193/2016 da Procuradoria do Estado de São Paulo para permitir a desocupação à força das escolas durante a ocupação promovida por estudantes secundaristas no estado em 2016. A liminar que evitou a derrubada da terceira casa foi confirmada, em 4 de fevereiro de 2021, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
A Fundação Florestal, procurada pela reportagem, enviou posicionamento de que “independentemente da condição de tradicionalidade alegada, nenhuma construção poderia ter sido iniciada sem a devida autorização do órgão gestor, ou com supressão de vegetação nativa”. Além disso, o órgão informou que o local escolhido para construção das casas “jamais poderia ser utilizado para inaugurar um novo núcleo habitacional”.
“Eles não conhecem a comunidade. Eles acham que é tudo igual, que é tudo mato. A gente construiu as casas em lugares onde já existiam casas dos nossos antepassados. Os lugares das casas já eram antropizados”, defendeu Marcos Prado.
Após a demolição, caiçaras dizem que a Fundação Florestal instalou um posto de vigilância no alojamento de pesquisadores de Grajaúna, muito próximo às casas da população caiçara. Os guardas circulam no interior das comunidades, mesmo com a pandemia, o que deixa os moradores apreensivos e desconfiados.
“Eles fazem isso para fiscalizar a comunidade, não para fiscalizar o lugar. É realmente uma política de expulsão. Logo após as demolições, eu ouvia uma moto diferente passando aqui e já ficava com medo. Tem uma pressão psicológica muito forte”, contou Karina Ferro Otsuka. Ela vive com Edmilson de Lima Prado e o filho pequeno, Martim Ferro do Prado, na terceira casa, que foi mantida de pé na ação de 2019.
Expulsão pelo cansaço
A ocupação caiçara da região da Jureia remonta ao século XIX. Registros mostram que a família Prado está ali desde pelo menos 1856, 130 anos antes da criação da Esec Jureia Itatins. Mesmo assim, a criação da UC, de caráter restritivo, foi feita sem consulta às comunidades e sem levar em conta as necessidades delas para manter sua existência. As principais atividades de subsistência dos caiçaras são a pesca, o plantio de roças e o manejo da floresta -- práticas proibidas na Esec.
“Isso parte de uma visão, que eu acredito ser ultrapassada, de que a preservação do meio ambiente se dá sem a presença humana. Isso não leva em consideração que os povos e comunidades tradicionais que já estavam lá são fundamentais na preservação do meio ambiente”, explicou Fernando Prioste, assessor jurídico do Instituto Socioambiental (ISA).
“Um resultado positivo [ao pedido de liminar apresentada no dia 11 de março] poderia significar um início de reparação por uma injustiça histórica praticada na Esec da Jureia”, avaliou Toshio. Após décadas de mobilização da população caiçara, a lei nº 14.982/2013, aprovada no estado, recategorizou a Esec para criar o Mosaico de UCs Jureia-Itatins e contemplar parte dos direitos da população caiçara. A mesma lei também garante a permanência de famílias caiçara no interior da Esec. “Esse é um detalhe importante que a Fundação Florestal ignora”, afirmou o defensor público.
Uma das dificuldades enfrentadas pelas comunidades hoje é a necessidade de autorização da Fundação Florestal para plantio de suas roças, que garante parte importante da subsistência das famílias. As autorizações costumam demorar muito e, em muitos casos, não são autorizados os locais mais adequados para as roças. “Há uma pressão contra o manejo, contra as práticas tradicionais, que inviabiliza a vida das pessoas lá”, resumiu Prioste. A proibição das roças caiçaras perdura mesmo no contexto da pandemia, em que o governo de São Paulo, por meio da Resolução SIMA nº 028/2020, permitiu a realização de roças tradicionais de forma emergencial para garantia de segurança alimentar e nutricional.
Devido à sobreposição, a população residente no território tradicional também encontra dificuldade para acessar serviços básicos, como educação, saúde e energia elétrica. Não há uma escola dentro do território e nem postos de saúde. Além disso, relatam que a Fundação Florestal impede a manutenção dos acessos, como pontes e estradas.
“O Estado vem expulsando as comunidades pelo cansaço”, afirmou Prado. Na análise dos laudos antropológicos periciais que embasam as ações apresentadas no início de março, os antropólogos Manuela Carneiro da Cunha, Mauro de Almeida e Rodrigo de Castro fizeram o levantamento das comunidades Rio Verde, Grajaúna e Praia do Una. Os dados mostram que de 39 famílias identificadas em 1983, restam apenas seis, um esvaziamento de 84% da população nas últimas quatro décadas.
Victor Pires
ISA
Imagens: